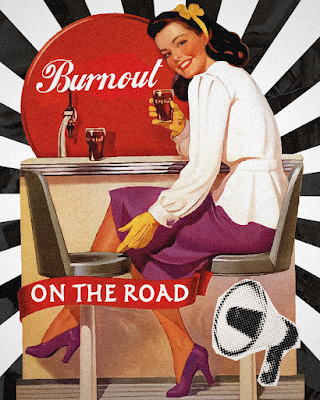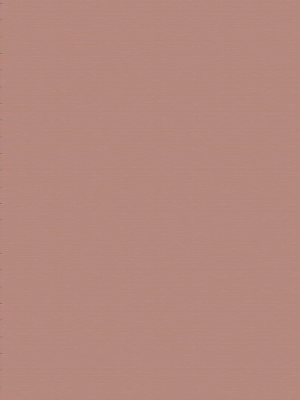Numa manhã chuvosa em Nova York, Sal Paradise (Jack Kerouac) se encontra desolado no funeral de seu pai. É ali que se inicia sua viagem pelo Oeste dos EUA no ano de 1947, logo após o fim da Segunda Guerra. Sentado na escrivaninha do seu quarto enquanto traga seu cigarro, recolhe algumas folhas em branco para seguir rumo e escrever suas experiências, no que viria a ser o seu diário de bordo. Se despede de sua tia com um beijo na testa, coloca sua mochila nas costas e sai vagando pela cidade à procura de sua primeira carona com destino à Denver, para encontrar com seus amigos Dean Moriarty (Neal Cassady) e Carlo Marx (Allen Ginsberg) que haviam partido dias antes e o esperavam para viver os dias intensamente sem maiores preocupações, a não ser viver as noites jazzistas regadas à benzedrina.
A narrativa do romance se constrói em forma de prosa
espontânea, como era a característica do movimento: poesia sem métrica, texto
em fluxo de consciência sem atender às regras gramaticais de forma exaustiva,
numa crítica ao formalismo. Esses textos descreviam as experiências cotidianas desses
sujeitos e expressavam as angústias e anseios de uma sociedade que havia passado
por duas guerras. Esse primeiro momento do movimento, foi repleto pelo desejo
de viver intensamente, buscando momentos extremos de “loucura”, percorrendo
cidade por cidade para viver suas noites gloriosas. Como o próprio Sal disse:
Mas, nessa época, eles dançavam pelas
ruas como piões frenéticos, e eu me arrastava na mesma direção como tenho feito
toda a minha vida, sempre rastejando atrás de pessoas que me interessam,
porque, para mim, pessoas mesmo são os loucos, os que estão loucos para viver,
loucos para falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao mesmo tempo,
aqueles que nunca bocejam e jamais dizem coisas comuns, mas queimam, queimam,
queimam como fabulosos fogos de artifício, explodindo como constelações em cujo
centro fervilhante...(p.11)
Dean que, segundo Sal, “era um delinquente juvenil envolto
em mistério”, um sujeito que vivia em condições precárias, tentando sobreviver
a qualquer custo, fazendo bico em estacionamentos, bares, restaurantes. Sal
Paradise era constituinte de uma pequena classe média, ligado à literatura. Carlo
Marx, bom, este era um poeta que estava sempre inspirado, esperando o seu
grande poema que prometeu aos seus amigos quando fizesse 23 anos. O uivo talvez
seja o poema mais conhecido da geração. Na trama, ainda temos a presença de
Bull Lee (William Burroughs), considerado o pai da geração Beat. Segundo ele,
Kerouac escreveu partes do romance no banheiro de sua casa enquanto defecava.
Depois de viver dias intensos em Denver com sexo, drogas,
jazz e umas pitadas de literatura, Sal seguiria viagem para São Francisco e Los
Angeles, pegando caronas em caminhões, descolando uns trocados nas colheitas de
algodão e escrevendo em pedaços de papéis as suas experiências. Volta para sua
casa em NY, e viaja para Virgínia com sua tia, à casa de seu irmão. Numa noite
enquanto seus parentes conversavam sobre bebês e casas novas, ele avista um
Hudson 49 todo enlameado em frente à sua casa:
___ “Um sujeito moço, fatigado e musculoso, metido numa
camiseta esfarrapada, com a barba por fazer e os olhos vermelhos, chegou até a
varanda e tocou a campainha”.
Era o Dean, acompanhado por Marylou e Ed Dunkel.
___ “Precisamos de um banho nesse exato momento, estamos no
bagaço”. Disse ele.
Depois partiram para NY de carro com Dean. Ficam um tempo
curtindo por lá, amontoados no apartamento de Sal, sempre reflexivo e inquieto.
___ “Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, de
repente percebi que era o chá que estávamos fumando; Dean tinha comprado um
pouco em Nova York. Era levado a pensar que tudo estava prestes a acontecer —
aquele momento em que você sabe tudo, e tudo fica decidido para a eternidade”.
Ao encontrar Carlo, apenas ouviram seus sermões:
___ “Não estou tentando roubar o doce da boca de vocês,
crianças, mas parece-me que já é hora de decidir quem são, o que farão da vida.
— Carlo estava trabalhando como datilografo num escritório. — Quero saber o que
significa essa vagabundagem dentro de casa, o dia inteiro. O que significa toda
essa conversa fiada, e o que vocês pensam fazer da vida. Dean, por que
abandonou Camille e está transando com Marylou?”.
Na sua segunda viagem em 1948, continuam a desbravar os EUA
e vão até o Mexico...
Assim foi escrito e retratado o cotidiano da primeira
geração Beat, repleta de um sonho aventureiro, que constituía uma contracultura
que depois, viria a influenciar os movimentos hippies.
Em um segundo momento, no decorrer da década de 1950, o
movimento expressou uma crítica à aquela sociedade militarista e criminalizavam
o imperialismo estadunidense, sobretudo após os bombardeamentos das cidades
Japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. O american way of life foi
fortemente criticado pelo poeta Allen Ginsberg, cuspindo poemas ácidos à tal
prosperidade econômica e ao conformismo dos anos 50. O modelo de vida vendido
pela indústria cultural estadunidense, projetava o padrão branco e de classe
média, vivendo suas vidas felizes marcada pelo consumismo. Em On the Road a
frase “temos que baixar o custo da vida” era o lema que prescindia os furtos
que faziam nas lojas de estradas durante a viagem. Allen se tornou um
intelectual da cultura pop, tendo influenciado diversos artistas como Jim
Morrison e Bob Dylan e também participado de vários projetos com ícones do
rock, como Paul McCartney que recitou o poema Uivo junto ao autor.
“Eu
vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura,
morrendo
de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada
em busca de uma dose violenta de qualquer coisa (...)
pobres,
esfarrapados e olheiras fundas, viajaram fumando sentados na sobrenatural
escuridão...
dos miseráveis apartamentos sem água quente,
flutuando sobre os tetos das cidades contemplando jazz (...)”